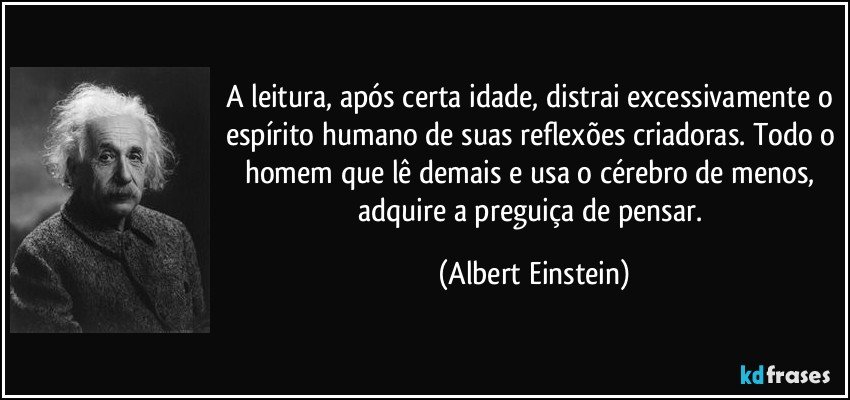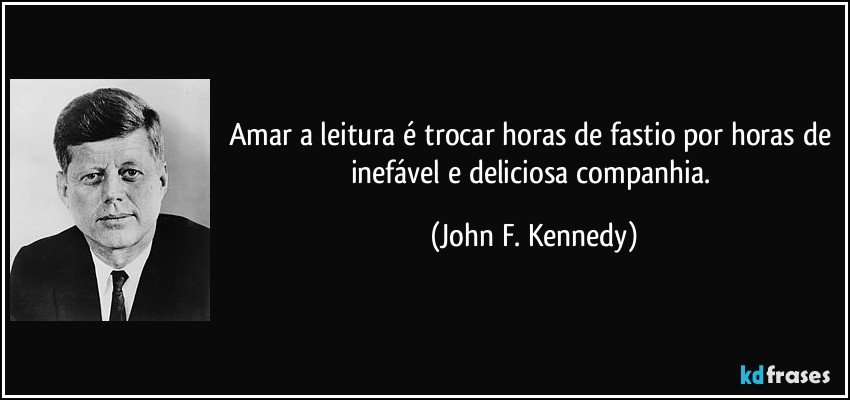O presente Módulo tem como objetivo central levar à
compreensão da natureza da investigação científica, identificar os seus percursos,
as suas diferentes etapas, as componentes de todo o processo e os critérios de
qualidade, bem como da importância da formulação de problemas, questões, objetivos
de investigação e o papel da teoria, da revisão da literatura e da recolha de
dados empíricos subjacentes a todo o processo.
Sessão Síncrona 1 - Natureza e Características da Investigação Científica (mod. 1) - 2015/11/10
 |
| Fonte: Google Images |
Neste primeira atividade síncrona, foram abordados os conceitos mais utilizados em trabalhos de investigação, como o conceito de paradigma, os diferentes tipos de investigação educacional, como correntes e tradições, nomeadamente:
O conceito de paradigma que tem predominado ao longo das últimas décadas quer na área da investigação científica no domínio das Ciências Naturais, quer na área das disciplinas de âmbito social;
A linguagem é um suporte indispensável para a produção de ciência, ao mesmo tempo que, a mudança de suportes, potencia também alterações na linguagem e, consequentemente abre novas possibilidades de produção de conhecimento;
- A teoria corresponde à descrição racional do conhecimento.
Acessos e Motivação vs Confiança e Competência
Acesso e Motivação vs Confiança e Competência são, no entendimento de Fernando Costa, docente responsável por esta UC, requisitos essenciais para o uso efetivo das Tecnologias Digitais na escola.
Para que se torne possível a implementação de qualquer projeto com recurso às Tecnologias de Informação é, numa primeira instância, indispensável a existência de acesso. Porém, este acesso não se circunscreve à existência de equipamentos, computadores ou outros e de ligação à Internet. É necessário dominar todos os aspetos inerentes a todo o processo, nomeadamente, saber usar adequadamente os equipamentos e as diferentes aplicações informáticas em contexto educativo.
Numa segunda instância, é fundamental a existência de motivação, observável através do investimento, da iniciativa, da disponibilidade para aprender e ensinar e da vontade de ir sempre mais além, por parte dos envolvidos no processo, professores, alunos, coordenadores pedagógicos e até da própria Escola que, na retaguarda deve disponibilizar todo o suporte logístico e se constitui como elemento decisivo no que concerne à implementação e acompanhamento de qualquer projeto.
A investigação permite inferir, segundo ernando Costa, que não se verificam diferenças significativas desde o advento das Novas Tecnologias e que os ganhos na aprendizagem se devem essencialmente à intervenção pedagógica. É nesse sentido que é orientada a formação que se vem fazendo a nível nacional e que tem como objetivo central provocar, estimular os professores e os agentes educativos em geral e conseguir a envolvência das Escolas:
Formação / Ação / Reflexão
Importa, sobretudo, levar o professor a repensar a sua área disciplinar e estimulá-lo no sentido de o fazer perceber, se o recurso às Tecnologias o pode levar a um "fazer diferente", acrescentar alguma mais-valia ao seu trabalho. Segundo aquele Professor, a investigação diz ainda que a variável tempo é a mais importante em todo o processo, sendo precisos 5 a 7 anos para que a apropriação ocorra, isto é, para que, ultrapassados todos os pressupostos iniciais como o acesso, a motivação e a existência de condições básicas para uma intervenção diferente, o professor sinta confiança para integrar as Novas Tecnologias no currículo da sua Disciplina. Esta mudança nas estratégias utilizadas consiste numa caminhada interior, repleta de obstáculos e limitações, sendo este, o aspeto menos trabalhado em termos de investigação e onde, em seu entendimento, há mais necessidade de intervir.
Para que haja ganhos efetivos na aprendizagem, é necessário otimizar o uso das tecnologias, no sentido de levar as pessoas a pensar, a imaginar, a refletir e a expressar-se, dimensões importantes no desenvolvimento global dos indivíduos, o que implica, inevitavelmente, a necessidade de repensar também a Escola: outros programas, outros conteúdos, outra forma de encarar o processo ensino/aprendizagem.
A competência decorre da confiança, da persistência, do modo como decorrem as coisas, da exploração que se faz no sentido de ir sempre mais além, da otimização do "arsenal" metodológico que se detém e da prática. É indispensável definir-se metas, ter uma visão global do que se pretende atingir e onde as Tecnologias podem ajudar.
"Se não há respostas, se não existem verdades mas temos uma determinada visão, vamos caminhando, fazendo as coisas e ganhando confiança e competência, ambas lado a lado e em contínuo equilíbrio".
Nota: Dado que, por desfasamento de horário, não participei na Sessão Síncrona, esta reflexão foi baseada num vídeo gentilmente enviado pelo Professor Doutor Fernando Costa.
Sessão Síncrona 2 - Natureza e Características da Investigação Científica (mod. 1) - 2015/11/16
 |
| Fonte: Google Images |
Síntese da Sessão
Nesta segunda atividade síncrona a que por razões de ordem técnica não consegui assistir globalmente, pude reter que, para além de esclarecimentos pontuais a questões colocadas pelos alunos, foi enfatizada a obra de Natércia Afonso (2005) e a terminologia utilizada em trabalhos de investigação, com particular destaque para a investigação naturalista, métodos utilizados e principais paradigmas da Investigação Científica.
Bibliografia recomendada
Investigação Naturalista em Educação - Natércio Afonso
A Educação é entendida como uma área de investigação das ciências sociais e como um setor específico da atividade humana e da realidade social, fértil em questionamentos particulares, objetos de estudo diversos e narrativas específicas do foro das diferentes ciências sociais. A caracterização das diferentes fases do processo de investigação científica, visa, sobretudo, uma abordagem prospetiva ao percurso que os iniciantes na investigação educacional terão de enfrentar, de modo a que cada um, de per si, possa antecipar a definição de estratégias pessoais com vista ao trabalho de conceção de um projeto de investigação. É, no entendimento do autor, indispensável que os aprendentes se apropriem do processo de investigação e o reconstruam em conformidade com os conhecimentos que detêm, mas, também, com os seus projetos de vida pessoal e profissional (Afonso, 2005, p. 11.)
Natércio Afonso salienta a relevância da análise crítica dos conceitos de investigação quantitativa e investigação qualitativa, pela controvérsia e divergência que provocam nas ciências sociais, com particular relevância no que concerne à investigação educacional, porquanto, à luz das metodologias usadas nas ciências sociais, a investigação educacional é entendida como investigação aplicada e organiza-se com base nos diversos paradigmas da investigação básica em que assenta o património da investigação social. A investigação sobre o ensino e aprendizagem é fortemente influenciada pela psicologia, principalmente pela tradição quantitativa da psicologia experimental e da psicologia diferencial, enquanto outras áreas da organização escolar como a gestão, as culturas e as identidades vêm sendo mais influenciadas pela ciência política, pela antropologia e pela sociologia, através das suas metodologias, predominantemente qualitativas, sendo que o que opõe os seguidores de ambas as metodologias (quantitativa e qualitativa), está, por norma, relacionado com a questão da subjetividade vursus objetividade. Qualquer tipo de investigação pressupõe, no entanto, a existência de elementos subjetivos, mesmo tratando-se de uma investigação quantitativa, dado que, muitas decisões, refletem a subjetividade do investigador, através de um paradigma específico, sempre presente na conceção da própria investigação.
A abordagem à investigação científica baseada no método experimental tradicional, pressupõe noções básicas limitadas no âmbito da ciência, não tendo em consideração a diversidade de métodos de investigação testados e reconhecidos não somente na área das ciências sociais, mas também em outras áreas científicas. A história das ciências e da sociologia do conhecimento, demonstram como o conhecimento científico corresponde a uma construção social e histórica, organizada em “paradigmas”, construídos e reconstruídos no interior das comunidades e instituições científicas que influenciam e refletem o contexto social em que estão inseridos.
A coexistência de paradigmas alternativos e o cruzamento de várias correntes epistemológicas e metodológicas das diferentes ciências sociais, propiciam um campo científico complexo e multifacetado que implica a necessidade de alguma orientação, no que concerne à pesquisa bibliográfica num domínio tão diverso, bem como a necessidade de "inventariar as principais correntes e tradições de pesquisa educacional" e a tipologia das diferentes conceções empíricas na área da educação (AFONSO, 2005. p. 19).
No âmbito da Educação e Ciências Sociais, o conhecimento científico que resulta do processo de investigação, expressa-se através de um discurso descritivo de situações concretas, suportadas por uma lógica dedutiva de carácter dedutivo e/ou indutivo, que sustenta uma interpretação das diferentes situações, organizada em conceitos e estruturas conceptuais. Na área das ciências sociais, o trabalho investigativo tem como objeto a ação humana organizada, isto é, a sociedade (Afonso, 2005). A substância de tais discursos, consubstancia-se na descrição, na previsão das causas e na explicação dessa ação humana. Assim sendo, a Educação, enquanto segmento da ação humana constitui-se como um campo específico das ciências sociais. A designação de "Ciências da Educação" está, por conseguinte, relacionada com a grande diversidade de práticas de investigação provenientes das diferentes ciências sociais, focadas nas questões mais relevantes da realidade social e muito particularmente na compreensão dessa componente específica da condição humana - a Educação.
A relação entre a teoria e a pesquisa empírica, tem uma "natureza circular e de interação recíproca" na construção do conhecimento científico. A construção teórica baseia-se nos dados empíricos e, por outro lado, o trabalho empírico assenta no questionamento da realidade social observável. É a partir de teorias que se questiona a realidade, que se definem estratégias de investigação e se relacionam métodos de recolha de dados. Em tal contexto, não há dados sem a existência de uma teoria. A teoria orienta o investigador na sua observação empírica, dizendo-lhe o que deve observar e o que deve ser ignorado. Os dados não falam por si, apenas ganham sentido no contexto teórico que os produz, através da observação seletiva da realidade humana. Esta construção e mobilização de conceitos, modelos e teorias, decorre de um paradigma, isto é, uma associação de crenças, valores e técnicas (AFONSO, 2005, p. 24).
 |
| Fonte: Google Images |
Inventado por Kuhn, o conceito de "paradigma" tem sido amplamente utilizado no âmbito das ciências sociais e não só. De acordo com a autora, Burrell & Morgan (1979), utilizaram-no como "instrumento heurístico central para a caracterização das diversas correntes e tradições científicas que constituem o campo multifacetado da sociologia e da análise organizacional. Estes autores entendem que é possível conceptualizar a produção científica nas ciências sociais e em termos de metodologia, com base em quatro conjuntos de pressupostos de carácter ontológico e epistemológico, sobre a natureza humana.
Os pressupostos de natureza ontológica respeitam à própria essência dos fenómenos estudados, isto é: saber se a realidade social é externa ao indivíduo ou corresponde ao produto da sua consciência individual; saber se a realidade é, por natureza, objetiva, ou se resulta da cognição individual, isto é, se a realidade é um fato ou um produto do espírito, sendo que, o debate ontológico se desenvolve entre posições nominalistas e realistas.
O segundo conjunto, de natureza epistemológica corresponde a pressupostos sobre a natureza do conhecimento, isto é, como se pode compreender e descrever o mundo, sendo que este debate se desenvolve em torno de posições positivistas e anti positivistas. Assim sendo, só pode compreender-se verdadeiramente uma realidade social específica perspetivando-a com base na estrutura de referência dos participantes em atividades de estudo, o que permite concluir que as ciências sociais são consideradas uma atividade essencialmente subjetiva. Por outro lado e como consequência, o anti positivismo opõe-se à ideia de que as ciências sociais possam induzir a qualquer tipo de conhecimento verdadeiro.
Ainda no âmbito das questões ontológicas e epistemológicas, existe um terceiro conjunto de pressupostos relacionado com a forma como se conceptualiza a natureza humana, no que respeita à relação existente entre o homem e o mundo real das relações sociais, sendo que nesta área o debate se circunscreve às perspetivas voluntaristas e deterministas. Os autores enfatizam que os três conjuntos de pressupostos descritos têm implicações de carácter metodológico, ou seja, interferem no modo como se procura investigar e produzir conhecimento sobre o mundo social.
Finalmente, Burrell e Morgan identificam, de acordo com Afonso (2005, p. 31), um último conjunto de pressupostos inerentes à construção do objetivo científico no âmbito das ciências sociais, considerando que todas as abordagens ao estudo da realidade social serão, necessariamente, baseadas em estruturas de referência, definindo as perspetivas, os temas e os problemas entendidos como centrais em cada área científica.
Sociologia da regulação, é a designação atribuída às abordagens baseadas na análise da realidade social de modo a destacar os fatores de unidade, convergência e coesão das sociedades. Em conformidade com Burrell e Morgan, citados pelo autor, estes consideram a investigação de Durkheim, focada no estudo da coesão e da solidariedade social, como o exemplo paradigmático que esteve na base da fundação da sociologia da regulação. Por outro lado, os autores consideram a sociologia da mudança radical, tendo em linha de conta a preocupação central com a investigação relacionada com as transformações sociais.
Burrell e Morgan, com base nas distinções entre a sociologia da regulação e a sociologia da mudança por um lado e as perspetivas subjetivistas e objetivistas por outro, concretizaram um modelo genérico de identificação e análise dos pressupostos subjacentes às diferentes teorias da realidade social existentes.
 |
| Fonte: Google Images |
A estrutura dominante no âmbito do trabalho académico da sociologia e do estudo das organizações tem-se baseado, segundo Afonso (2005, p. 32), no paradigma funcionalista, porquanto se trata de uma perspetiva bastante consolidada na sociologia da regulação e faz uma abordagem da realidade social partindo com base numa visão objetivista, produzindo uma sociologia da regulação de forma mais elaborada. Trata-se de uma perspetiva profundamente pragmática, procurando, em termos práticos, compreender os fenómenos sociais de forma a produzir conhecimento útil. Teve origem, de acordo com Burrell e Morgan citados pelo autor, no positivismo sociológico, iniciado em França na primeira metade do século XIX e fortemente influenciado por Comte, Spencer, Durkheim e Pareto.
Já em finais do século XIX, Webor, Hussori e Schutz, representantes do neo-idealismo, impulsionaram o interpretativismo com novas contribuições para o desenvolvimento das teorias sociais e das organizações, influência que se mantém atualmente, através das robustas perspetivas teóricas e metodológicas como a etnometodologia e o interacionismo simbólico introduzidas, no entendimento da autora, por Garfinkel, Goffman e Becker.
No decurso do século XX, o paradigma funcionalista foi muito influenciado por conceitos e abordagens com origem no pensamento social da tradição idealista alemã, sendo que, desde meados do mesmo século, passou a receber influências de elementos marxistas, muito característicos da sociologia da mudança. Tais elementos vêm sendo introduzidos no paradigma, objetivando a radicalização da teoria funcionalista e contestar eventuais críticas de conservadorismo e de incapacidade para explicar a mudança social. Esta multiplicidade de influências deu origem a diferentes escolas de pensamento no seio do paradigma funcionalista, caracterizado por uma grande diversidade de teorias sociológicas e organizacionais e, consequentemente, um intenso debate entre elas.
O paradigma humanista radical caracteriza-se pela preocupação em desenvolver uma sociologia da mudança com base numa visão subjetivista. A abordagem que faz das ciências sociais cruza-se com o paradigma interpretativo, uma vez que concebe também o mundo social numa perspetiva "nominalista, auto positivista, voluntarista e ideográfica". No entanto, ao nível da sua estrutura de referência baseia-se mais numa perspetiva de sociedade que realça a necessidade de ir além dos limites das estruturas sociais existentes.
No contexto teórico o humanismo radical baseia-se também na tradição idealista alemã, através das obras de Marx, com base nas quais foi pela primeira vez utilizada a tradição idealista como suporte de uma filosofia social radical que, posteriormente, veio a influenciar gerações sucessivas de humanistas radicais. A filosofia existencialista de Sartre e de mutos outros autores entre os quais se situava Paulo Freire pode, também, enquadrar-se neste paradigma dado que, de algum modo, todos se preocupavam com "a libertação da consciência e com a experiência de dominação pela superestrutura ideológica do mundo social a que os seres humanos estão submetidos".
O paradigma estruturalista radical propõe, com base numa perspetiva objetivista, uma sociologia de mudança, muito embora partilhe com o funcionalismo uma conceção semelhante das ciências sociais e tenha objetivos completamente distintos, porquanto está focada na análise dos conflitos estruturais, das contradições e das formas de dominação. No entendimento de Burrell e Morgan, citado por Afonso (2005, p. 36), o estruturalismo radical tem também a sua origem nas obras de Marx, muito em particular, da análise que fez das teorias darwinistas e da economia política clássica. Não obstante outros autores tenham reinterpretado os seus trabalhos, a sua influência é ainda predominante (Afonso, 2005, p. 36).
Enquanto domínio específico da realidade social, a Educação constitui-se como um espaço de convergência da investigação produzida nos diferentes domínios das ciências sociais, sendo que, a autonomia gradualmente adquirida pela investigação social, bem como o progressivo desenvolvimento das ciências da educação, levaram a que estas influências originais se consolidassem e se tornassem correntes e tradições específicas, mantendo, no entanto, fortes laços com os respetivos campos teóricos de origem, no âmbito das diferentes ciências sociais.
Em Portugal, uma das mais remotas tradições de pesquisa em educação tem, na sua essência, a psicologia experimental, com início em finais do século XIX. "A atual investigação didática, de teor funcionalista, sobre a avaliação e eficácia dos métodos e técnicas de ensino" resulta desta tradição que abrange também muita da investigação produzida no âmbito das tecnologias educativas e da psicologia da aprendizagem.
A investigação historiográfica no campo do estudos históricos é também uma corrente bem consolidada e dá suporte à atual História da Educação, sendo possível, num período mais remoto, identificar uma corrente mais tradicional em termos de história da política educativa. Uma outra área da investigação, focou-se mais na história da pedagogia e das ideias pedagógicas, em relação estreita com a história da filosofia, a história das ideias e a história da cultura. Por fim, influenciada pela história económica e social que decorreu da renovação da investigação historiográfica que ocorreu na segunda metade do século XX, surgiu uma nova corrente da história da educação, influenciada pela chamada escola francesa através dos autores Marc Bloc, Lucien Febvre e Fernand Braudel (Afonso, 2005, p. 38).
Foi a partir da década de sessenta do século XX que a investigação educacional ganhou particular relevância em Portugal. A tradição da análise educacional afirmou-se a partir da década de oitenta e foi-se desenvolvendo tendo como estratégia central a crítica à perspetiva determinista dominante. No campo da reflexão teórica que prevaleceu ao longo de todo o século, esta nova sociologia da escola constituiu-se como uma terceira fase, centrando-se a investigação ao nível médio, isto é, na organização escolar. Neste âmbito são identificados registos metodológicos muito diversos, que incluem instrumentos de pesquisa de inspiração funcionalista, focados na identificação de indicadores de eficácia e de qualidade e recursos estatísticos bastante sofisticados.
A antropologia e etnografia vêm assumindo uma importância cada vez mais relevante ao nível da investigação educacional. Em termos epistemológicos, dominam as abordagens interpretativas na tradição etnográfica e, ao nível metodológico, predomina a observação participante.
A ciência política vem tendo também uma influência significativa na investigação educacional, sendo que, os temas dominantes se centram na análise das políticas educativas públicas e da micropolítica das organizações, no estudo de valores de referência da provisão educativa e da valorização da Educação enquanto bem público e privado.
A tradição da inovação educacional constitui-se também como uma corrente endógena no campo da investigação educacional, surgindo na maioria das situações associada à avaliação de projetos educativos singulares, à investigação decorrente de movimentos de renovação pedagógica e ao estudo da mudança em educação, verificando-se, nas últimas décadas do século XX, a sua associação aos estudos sobre a melhoria das escolas e a projetos de autoavaliação das organizações escolares, bem como à sociologia das profissões e à formação de professores.
Os estudos naturalistas preocupam-se com a investigação de situações concretas identificáveis pelo investigador, sem qualquer intervenção no que concerne à manipulação deliberada de quaisquer variáveis, podendo distinguir-se três tipos de estudos naturalistas, nomeadamente, descritivos, de correlação e causais/comparativos. Os estudos descritivos caracterizam-se pela narrativa de fatos, situações processos ou fenómenos observados pelo investigador, quer diretamente, quer através da sua caracterização com base em suporte empírico relevante. Nos estudos de correlação, o objetivo central consiste em relacionar duas ou mais variáveis sem que haja qualquer tipo de interferência em termos de causalidade.
Os estudos causais e comparativos visam o estabelecimento de relações de causalidade entre duas ou mais variáveis através de instrumentos que propiciem o controlo de explicações alternativas. Neste caso, o dispositivo de investigação é concebido de modo a que a variável independente (situação manipulável durante o estudo) possa ser relacionada com outra variável designada de dependente (aspecto da situação que se vai alterando em função da mudança operada na variável independente).
Nos estudos experimentais a investigação é simulada, com base em situações artificiais idealizadas para o efeito pelo investigador e tem como objetivo central o controlo das circunstâncias em que ocorre o fenómeno que se pretende estudar, objetivando encontrar argumentos sobre a validade das relações de causalidade estabelecidas entre as diferentes variáveis.
Comentário crítico
A obra de Natércio Afonso foi desenvolvida com base no pressuposto de uma metodologia da investigação orientada para o contacto direto com a comunidade científica de referência, tanto em termos nacionais como internacionais e privilegia, na abordagem que faz, o fato de a investigação estar centrada na produção da investigação e não no mero discurso sobre a produção de investigação. Entende o autor que, o papel precípuo que atribui à investigação, é "gerador de abordagens mais críticas e reflexivas às atividades e contextos profissionais onde a investigação em causa tem relevância", porém, proporciona, também, uma acrescida capacidade de autoformação.
Valorizar as perspetivas epistemológicas e metodológicas inerentes à abordagem à investigação educacional, que privilegiam a compreensão das estruturas sociais e organizacionais, a criação de contextos de ação e das ordens locais, a caracterização das relações de poder, as lógicas de ação, as culturas profissionais e organizacionais e a constituição de identidades, foram pressupostos que nortearam esta obra. No âmbito dos estudos naturalistas, são particularmente enfatizados os estudos descritivos, porquanto são considerados mais conformes com a investigação que hoje se faz, no domínio da investigação académica em educação, mais voltada para abordagens interpretativas e estudos de caso e mais consentânea com a iniciação à pesquisa educacional sem, contudo, se ignorarem os estudos correlativos, causais e comparativos nem a inferência estatística, pela importância de que se revestem na investigação de âmbito educacional.
A escrita está voltada para a compreensão dos objetivos específicos e dos conceitos básicos da Investigação em Educação, para a identificação de estratégias de pesquisa e para a iniciação às técnicas de pesquisa, bem como para o conhecimento dos instrumentos inerentes ao trabalho de investigação, organizados de forma lógica e sequencial, de acordo com a sua abordagem e considerados estruturantes no planeamento de todo o trabalho pedagógico subjacente à iniciação à investigação.
Manual de Investigação em Educação - Bruce W. Tuckman
Apesar da formulação de um problema corresponder as uma das fases mais complexas num processo de investigação, esta é apenas suscetível de uma orientação mínima, porquanto, a seleção de um problema não se posiciona ao nível das normas técnicas ou dos requisitos inerentes à definição de um design de investigação, dos métodos de medida ou mesmo das estatísticas, podendo, no entanto, estabelecer-se alguns critérios, nomeadamente no que concerne à formulação de um problema que:
- deve estabelecer uma relação entre duas ou mais variáveis;
- deve ser formulado de forma clara e objetiva;
- deve ser formulado em forma de questão ou, em forma de questão implícita;
- deve ser testável através de métodos empíricos, isto é, deve ser possível a recolha de dados que respondam à questão formulada;
- não deve aludir a qualquer atitude moral ou ética.
Este estudo teve como objetivo central a análise da relação entre duas ou mais variáveis, sendo que, o investigador manipula alguns aspetos de uma variável para determinar os efeitos dessa manipulação nas outras variáveis, não se limitando a um estudo meramente descritivo.
Em conformidade com o autor, a formulação de um problema requer, no mínimo, a inclusão de duas variáveis relacionadas entre si, devendo existir sempre a possibilidade de uma solução, através da recolha de informações factuais ou, poder pôr-se em questão, através de outros dados do mesmo tipo sendo que, a natureza das variáveis introduzidas na procura de respostas é, só por si, indiciadora desse possibilidade (Tuckman, p. 39).
Em virtude o grande número de problemas a investigar é aconselhável a delimitação da amplitude desses problemas em conformidade com o seu interesse e capacidades, sendo, por vezes, necessário o recurso a esquemas existentes, que facilitam a sua classificação.
Um modelo conceptual corresponde a um conjunto de relações por vezes propostas, entre variáveis específicas que acompanha todo o processo, desde o seu início ao resultado, cujo objetivo específico consiste na explicação dos resultados, que proporciona outras variáveis suscetíveis de ser utilizadas em pesquisas posteriores e proporciona exemplos específicos dessas variáveis e das nossas expectativas sobre as suas relações.
A escolha de um problema deverá obedecer a alguns critérios essenciais antes de se iniciar o seu estudo, nomeadamente:
Praticabilidade: O estudo em causa está abrangido pelos limites dos recursos e constrangimentos temporais existentes? Existirá acesso a uma amostra necessária e na quantidade exigida? Existem razões suficientemente fortes que conduzam a uma resposta para o problema? A metodologia é de fácil compreensão e acessível?
Amplitude crítica: O problema tem a abrangência e magnitude que justifiquem a exigência do estudo? As variáveis existentes são suficientes? Os resultados potenciais são suficientes? Existe matéria que justifique a escrita?
Interesse: Existe interesse no âmbito do problema específico e numa hipotética solução? Está o problema em conformidade com o nosso conhecimento ou com os nossos interesses profissionais? Serão úteis os resultados obtidos após o estudo?
Valor teórico: O problema não foi já objeto de estudo? Será que é importante? Acrescentará alguma coisa de positivo ao nosso percurso científico? Existe viabilidade para que seja publicado?
Valor prático: A resposta ao problema em questão melhorará a prática educacional? Será que os técnicos da área estarão interessados na resolução do problema? A resposta encontrada irá de alguma forma mudar a nossa prática pedagógica?
Um problema de investigação deverá sempre traduzir-se por uma questão (explícita ou implícita) formulada de modo claro e objetivo sobre a relação entre duas ou mais variáveis, não devendo nunca representar questões de natureza moral ou ética, mas antes, questões que possam ser testadas empiricamente, isto é, através da recolha de dados.
Comentário crítico
Em construção....
Como elaborar Projetos de Pesquisa - António Carlos Gil
Segundo o autor, toda a pesquisa se inicia com algum tipo de problema ou questão. Porém, não é tarefa fácil conceituar adequadamente um problema de pesquisa, dada a divergência de aceções inerentes ao termo.
Remetendo-nos para a mais recente versão do Dicionário Aurélio apresenta-nos, entre outros significados o seguinte: questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento, sendo sobre este que se debruça, por entender que, de todos, é o que mais se adequa à caracterização de um problema científico, sendo certo que nem todos os problemas são passíveis de tratamento científico, o que significa que, para realizar uma pesquisa é indispensável, numa primeira fase, verificar se o problema em questão tem carácter científico.
Segundo Gil, um problema é de natureza científica, quando envolve variáveis suscetíveis de serem testadas, observadas ou manipuladas. Um problema de pesquisa pode ser despoletado por uma questão de natureza prática ou intelectual. Pode formular-se problemas no sentido de avaliar determinadas ações ou programas, como um anúncio de televisão, por exemplo, do mesmo modo que é também possível formular problemas relacionados com as consequências de diferentes alternativas possíveis ou com a descrição de um determinado fenómeno, como, por exemplo, verificar as características socioeconómicas de uma população ou traçar o perfil de um seguidor de certa religião.
A formulação de problemas científicos exige o exercício de certas capacidades pouco comuns nos seres humanos, muito embora, a prática, desempenhe neste processo um papel fundamental. Existem algumas condições que facilitam essa tarefa, nomeadamente: imersão sistemática no objeto de estudo, exploração da literatura existente sobre a temática e discussão com pessoas que detêm experiência na área (Selltiz, 1967).
A experiência acumulada dos pesquisadores propicia também o desenvolvimento de certas práticas para a formulação de problemas científicos, como, por exemplo:
- O problema deve ser sempre formulado como pergunta;
- O problema deve ser claro e preciso;
- O problema deve ser empírico;
- O problema deve ser suscetível de solução;
- O problema deve ser circunscrito a uma dimensão viável.
Problemas científicos não devem referir-se a valores, muito embora as ciências se interessem também por esse estudo. No entanto, estes devem ser abordados com objetividade, como fatos ou como "coisas" (Durkheim). Para formular de forma adequada um problema é indispensável o domínio da tecnologia inerente à solução, caso contrário, é mais razoável proceder-se a uma investigação sobre as técnicas de pesquisa necessárias. A delimitação do problema está estreitamente relacionada com os meios existentes para a investigação.
Comentário crítico
Em construção...
Bibliografia complementar:
Naturaleza de la investigación y evaluación en educación
Lukas e Santiago entendem que, na abordagem ao tema da investigação e avaliação em educação, é inevitável ter-se em consideração uma diversidade de conceitos que, de algum modo, podem suscitar dúvidas mais ou menos importantes e transcendentes. considerando o exemplo do termo "investigação", pode, segundo estes autores, colocar-se questões do tipo: quais as características diferenciadoras da investigação científica em relação a outras formas de conhecimento? O termo "educativa", por sua vez, pode induzir à reflexão sobre se a educação e, mais precisamente a pedagogia, é ou não uma ciência. A resposta a estas questões dependerá, segundo eles, do entendimento que se tenha sobre "ciência".
Por outro lado, se considerarmos ambos os conceitos, poderemos ser levados a refletir sobre o tipo de conhecimento que é obtido a partir da "investigação educativa", o que nos conduzirá a áreas do conhecimento como a Filosofia, a Ciência e a Epistemologia. Há, segundo eles, grande unanimidade na comunidade científica, no que concerne a estas questões, porém, no campo das ciências sociais e humanas e, mais especificamente nas Ciências da Educação, as coisas não acontecem do mesmo modo, dado que, as perspetivas sobre as finalidades e tarefas de investigação e avaliação são bastante diversas, o que implica uma resposta mais elaborada a todas estas questões.
Tendências e Práticas de Investigação na Área das Tecnologias em Educação em Portugal
O potencial das novas tecnologias na resolução de problemas na educação e o advento do computador pessoal vieram, no entendimento de Fernando Costa (2007), "despoletar um significativo desenvolvimento de experiências concretas de utilização em contexto escolar, em todo o mundo ocidental".
Efetivamente, a utilização de computadores na escola está ainda muito pouco consolidada e está de pendente de inúmeros fatores maioritariamente circunstanciais e devido à carência de medidas objetivas e sustentáveis, quase sempre relacionadas o grau de entusiasmo dos professores. Mesmo quando o nível de entusiasmo dos professores é elevado, em termos do uso dos meios tecnológicos na sua atividade profissional, de acordo com Costa (2007), pode constatar-se que a sua utilização é bastante reduzida no quotidiano escolar. Por outro lado, a sua utilização tem resultados, em geral, muito pouco conclusivos e até mesmo contraditórios quando, a ideia de base, é a comparação em termos de eficácia, no que concerne à aprendizagem.
No sentido de contribuir para um enquadramento de referência da situação em Portugal, Costa e outros autores disponibilizaram, numa primeira fase, particular atenção às questões relacionadas com a evolução do campo, em segundo lugar às questões inerentes à discussão em torno do papel desempenhado pelas novas tecnologias e, finalmente, às questões diretamente relacionadas com o tipo de investigação científica que vem sendo realizada neste domínio.
Do ponto de vista prático, o recurso a meios tecnológicos em Educação assuma, na sua essência, duas lógicas diferenciadas suscetíveis de ser colocadas entre dois extremos. Uma que os coloca ao serviço dos professores em exclusivo facilitando-lhe a tarefa de transmissão do "saber" e uma outra que defende que os recursos tecnológicos devem ser colocados ao serviço do aluno, como elementos organizadores e facilitadores das aprendizagens, independentemente da forma como isso possa ser entendido e aplicado nas diferentes áreas científicas diretamente relacionadas com o problema em si, como acontece, nomeadamente em Psicologia e Sociologia, enquanto ciências da Comunicação, nas Ciências das Organizações e, mais recentemente nas Ciências da Educação.
No que à investigação concerne, sobre o ensino e a aprendizagem, São também significativas as alterações que se vêm operando, nos últimos tempos e que evoluem no sentido de dar forma a um modo de pensar construtivista, que ainda hoje prevalece nos documentos retóricos ou documentos oficiais sobre Educação.
O mais recente desenvolvimento da indústria eletrónica, das redes e da Internet em particular, bem como a implementação de sistemas de rede que, já no início do século XXI, tornaram possível a massificação da WWW - World Wide Web, foram os mais recentes contributos para a evolução do campo e, quiçá, o ponto de partida para desafios nunca antes experienciados na escola. Não obstante a existência ainda do áudio visual na escola, com características analógicas, a Informática assumiu, a partir da década de oitenta, um papel determinante, quer no apoio ao professor que no que aos alunos respeita.
Apesar de ser já longa a existência das novas tecnologias na escola, a sua utilização está longe de corresponder ao desejável. São diversas as razões apontadas para tal, porém, a incerteza e a insegurança que desta decorre sobre "o que deve ser ensinado" e "como deve ser ensinado", determinada pela rápida evolução da engenharia informática e das novas tecnologias associadas ao computador, é, seguramente, uma das principais razões, porem a razão central consiste no fato de se não ter compreendido ainda que tais ferramentas poderão constituir-se como poderosas ferramentas pedagógicas, não apenas como extensas e ricas fontes de informação, mas, também, como extensões da própria capacidade humana de contextos sociais de interação facilitadores da aprendizagem (Bransford et al., 1999; Jonassen, 2000; Papert, 1997).
Tendo em conta a importância que os computadores e as tecnologias que lhes estão subjacentes passaram a ter na nossa sociedade, no que concerne às potencialidades de representação da informação, comunicação e interação em rede, Costa (2007) deu maior ênfase à introdução das novas tecnologias, pela importância que, em sua opinião poderão assumir no futuro no que respeita à "forma de pensar a escola".
Comentário crítico:
Costa enfatizou a importância da investigação científica em termos de fundamentação, orientação e avaliação da prática do uso das novas tecnologias em contexto educativo, entendendo que que a investigação realizada neste âmbito deve ser também aprofundada, razão que esteve na base do Colóquio realizado em Portugal subordinada ao tema "Investigação em Educação".
A inexistência de estudos neste domínio era então praticamente inexistente o que levou as universidades portuguesas a assumir um papel ativo, também, ao nível das tecnologias educativas, com o aparecimento dos primeiros cursos de mestrado na Universidade do Minho, em 1987.
Não obstante a existência de diversos autores que refiram a inexistência de trabalhos efetuados neste domínio, não era, então, conhecido nenhum estudo aprofundado sobre a investigação científica desenvolvida nesta área em Portugal. Esta publicação visou, sobretudo mostrar parte do trabalho de investigação que em Portugal, dado ser a este nível que se posiciona uma boa parte dos trabalhos realizados neste domínio, objetivando uma melhor compreensão das problemáticas estudadas, os quadros teóricos e metodológicos em que se situam, as universidades onde os trabalhos foram realizados, quem concretizou a investigação, as técnicas de recolha e de análise dos dados, entre outros aspetos contemplados.
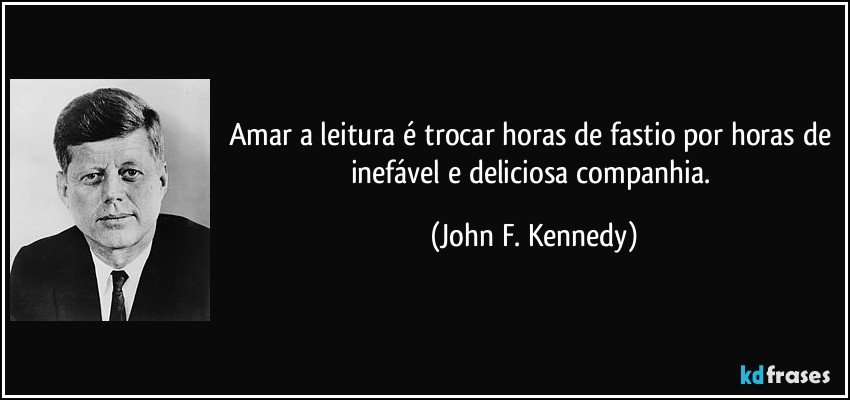 |
| Fonte: Google Images |
Bibliografia Obrigatória:
NATÉRCIO A. Investigação Naturalista em Educação - um guia prático e crítico. Asa Editores, S.A., (Coleção em Foco), 2005, 1ª edição. pp. 9-46.
TUCKMAN B. W. Manual de Investigação em Educação. Edição de Fundação Claloust Gulbenkian.
GIL A. C. Como Formular um Problema de Pesquisa. 4ª Edição. São Paulo: Editora Atlas.
Burrell G.; Morgan G.. 1979. p. 26.
Outros Recursos:
ALON U. How To Choose a Good Scientific Problem.
LUKAS e SANTIAGO. Naturaleza de la investigación y evaluación en educación.
COSTA F. A. (2007) Tendências e Práticas de Investigação na Área das Tecnologias em Educação em Portugal. In: ESTRELA, A. (Org.). Investigação em Educação. Teorias e Práticas (1960-2005). Lisboa: Lisboa: Educa & Ui&dCE. p. 169-224.